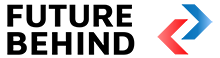Diz Gilles Lipovetsky, no seu livro “O capitalismo estético na era da globalização”, que a sociedade atual é modificada e manipulada através do sistema capitalista. Esta sociedade, híbrida e focada numa procura constante pelo prazer, pela novidade, está desconexa da cultura erudita. Que é como quem diz, afastada do conceito primordial da arte como elemento criativo para se caracterizar mais profundamente por capitalismo trans-estético.
O capitalismo estético, aliás, está assente, de acordo com Lipovetsky, no culto existente da novidade e do que está na moda enquanto dispositivos sociais, norteados pelos consumidores (nós!) que, numa busca cada vez mais desenfreada por se sentirem seduzidos, acabam por tornar o consumo de arte um momento h edonista, estético e lúdico, em oposição ao elemento mais revolucionário e educativo de outras épocas.
A premissa é simples. Nós já não consumimos arte, na sua generalidade, pelo seu valor cultural, criativo, ou desconstrutivo da realidade, mas sim pelo seu valor lúdico, familiar e estético de acordo com os cânones de popularidade vigentes, porque a arte é, neste momento, um produto capitalista. Como, de resto, também o são os videojogos. E se olharmos para a sua história ainda breve, ao contrário de outros formatos artísticos, a sua criação não partiu de uma base expressionista, funcional ou ideológica. Foi, basilar e especificamente, tecnológica e capitalista.
Podemos argumentar que Pong e os seus contemporâneos possuem um valor artístico intrínseco, mas é difícil negar que a sua existência foi potenciada pela oportunidade de negócio, de gerar maior lucro, inicialmente através das arcadas e, posteriormente, através da venda ao consumidor de software e hardware.
Não quero com isto pregar-vos uma missa revolucionária, mas estabelecer este ponto para vos apresentar a minha premissa sobre o desafio que o Jorge Vieira, conhecida figura da nossa indústria, lançou a este vosso articulista e a tantos outros na nossa esfera do comentário de videojogos: estará a nossa indústria a passar por uma fase de estagnação criativa?
Segue o Future Behind: Facebook | Twitter | Instagram
A resposta, a meu ver, é sim. E não. Depende do prisma e do elemento da indústria que escolhemos colocar em observação para tirar esta ilação. Olhando para a sua base capitalista, é natural sentirmos esta repetição temática, narrativa e mecânica nos videojogos de maior orçamento. Há 20 anos, o que caracterizava os videojogos de grande orçamento na Sony eram as profundas diferenças mecânicas e artísticas entre cada proposta (coloquem lado a lado Ape Escape, Metal Gear Solid, Final Fantasy VII e Parappa the Rapper, por exemplo). Hoje em dia, no entanto, a maior característica é a uniformização de sistemas e experiências para uma coesão confortável junto do consumidor e, mais importante que tudo, absolutamente rentável do ponto de vista da cultura popular.
Embora mais claro na experiência Playstation, o sintoma da uniformização de catálogo e mecânicas é também perceptível noutros títulos ambiciosos, sejam Call of Duty, Assassin’s Creed, Far Cry, GTA. Todos com orçamentos de tamanho considerável, todos alicerçados numa corrente estética, mais focada na geração constante e ininterrupta de interesse e escassez junto do consumidor pelo nome da marca, ao invés da sua qualidade inerente ou proposta de valor. No fundo, o elemento que Lipovetsky nos reporta: o interesse nasce não pelo valor artístico, mas porque está intrinsecamente ligado ao discurso global e ao desejo de pertença à cultura pop.
No entanto, a indústria, criativamente, continua a avançar. Ao lado dos seguros Horizon, Uncharted, Forza ou Halo, foram criadas algumas das propostas criativas mais irreverentes, desafiadoras e inspiradoras do meio dos videojogos. The Stanley Parable, Undertale, What Remains of Edith Finch, Hades, Hollow Knight, Ori, Stardew Valley, Disco Elysium, Papers, Please, This War of Mine. Tudo títulos que partiram de uma base focada na ideia e na mensagem artística, diametralmente oposta à premissa da geração de lucro e vendas, o que lhes permitiu evoluir as barreiras do que achávamos possível criar num videojogo, quer seja na sua base genealógica, quer seja na vertente mecânica e narrativa.
Isto não quer dizer que não encontramos inovação em títulos AAA. A forma como Last of Us Part II joga com as expectativas de agência do jogador nos acontecimentos do jogo, ou a liberdade mecânica e de exploração absolutamente viciante de Marvel’s Spiderman são dignos de louvor. Super Mario Odyssey e Legend of Zelda: Breath of the Wild aperfeiçoam fórmulas de anos em meios e formatos novos. Porém, é possível argumentar-se que são mais do mesmo. São peças de entretenimento que, embora possam estar mais polidas, levando as suas ferramentas visuais e mecânicas ao máximo expoente, são a mesma fórmula encontrada em jogos do mesmo estilo e casas de software há 10 anos, com tecnologia menos avançada.
Segue o Future Behind: Facebook | Twitter | Instagram
A inovação, a visão artística, disruptiva e transformadora, tipicamente, não se encontra nas casas cujo propósito é maioritariamente comercial.
O capitalismo estético leva-nos a procurar, também, estabelecer o eu e o indivíduo como representações opinativas dentro de correntes populares nos canais de comunicação. Mais importante que desfrutar ou encontrar sentido no produto, é comentá-lo, representá-lo publicamente e demonstrar que se pertence à tribo que dele fala. No fundo, enquanto que há 20 anos a pertença ao luxo e ao status quo estava encerrado numa elite, neste momento, com o advento das redes sociais, está presente e disponível para qualquer um de nós.
Quero com isto dizer que esta mudança sociológica acaba por influenciar estruturalmente a forma como apreciamos a arte nos videojogos. É neste sentido que se celebra, tanto comercial como discursivamente, o lançamento e existência de títulos anos antes de serem lançados, puramente por valores nostálgicos associados ao nome do jogo, ao elenco envolvido ou ao hardware em que é disponibilizado.
Em termos comerciais, torna-se então fulcral para os grandes estúdios conseguir encaixar o maior número de mecânicas, chavões e referências populares o suficiente para despertar curiosidade ao mesmo tempo que cria desejo junto do consumidor em não só adquirir o jogo, como em comentá-lo. Independentemente do resultado final. Independentemente do impacto e do avanço que possa ou não trazer para a indústria.
No fundo, o que quero dizer é isto. A inovação, a visão artística, disruptiva e transformadora, tipicamente, não se encontra nas casas cujo propósito é maioritariamente comercial. Isto por não existirem condições para que as equipas possam arriscar e deixar a sua criatividade avançar sem barreiras. O capitalismo estético leva-nos a conseguir justificar a paixão exacerbada por títulos meramente pelo seu nome, chegando ao ridículo de, como aconteceu há pouco tempo com God of War Ragnarok, assediar-se uma equipa inteira por atrasar o lançamento do jogo.
Por outro lado, creio que é também falacioso dizer que a indústria estagnou. Mais apropriado será dizer que a vertente AAA maturou e, fruto dos interesses económicos cada vez maiores, se vê obrigada a respeitar o status quo sob pena de arriscar em demasia. A inovação existe e continua a permear a indústria, está é escondida, como acontece também com a arte mais irreverente, dos círculos mais populares. Cabe-nos, enquanto críticos, dar o devido destaque e importância aos jogos que teimam em não ser produtos e deitam fora as convenções para almejar a serem arte.